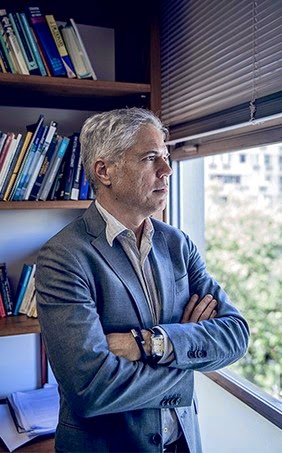Pouco mais de três décadas após a sua fundação, o Partido dos Trabalhadores (PT) ostenta a maior bancada no Congresso e mobiliza impressionante número de filiados. Sobretudo, responde por um feito extraordinário, que são os quatro mandatos presidenciais conquistados. Sua importância é inquestionável: sem a ativa presença do PT e de seus militantes, como seria a democracia em nossos dias? Que Constituição teríamos, sem a feroz ação petista na preparação da Lei Maior, sendo o conservadorismo uma das marcas pétreas do sistema político?
Mas a vida seguiu. Esboçaram-se em dois artigos anteriores (A tragédia petista, 26/10 e A tragédia petista 2, 30/11) o passado e os processos mais intestinos de sua gênese e de seu desenvolvimento, assim como as tendências recentes, incluindo sua surpreendente adesão à corrupção. A trilogia analítica é agora concluída com a pergunta desafiadora: qual o futuro do partido?
Em teoria social, elaborar previsões significa pisar no escuro, pois os humanos são um tanto imprevisíveis. A ponderação de fatores intangíveis, como os culturais, e a leitura do devir das sociedades (ou de partidos) são um exercício mais intuitivo do que científico. A lógica foge por entre os dedos. Em meio à gigantesca crise da Petrobrás, comprometendo a empresa e a economia brasileira em proporções abissais, como entender que o prestígio da presidente se mantenha elevado? Ela coordenou o conselho de administração, foi ministra e observou o aparelhamento da empresa: não teria visto a instalação dos condutos financeiros espúrios destinados aos partidos, o PT em particular? Como explicar que significativa proporção dos brasileiros não consiga estabelecer relações causais banais e imediatas em suas avaliações sobre os personagens da política e do Estado? Como interpretar que uma parte considerável de nosso povo acredite piamente que "Lula não sabia, Dilma não sabia, Graça não sabia"? Nem a melhor Sociologia do planeta explica a persistência dessas percepções sociais.
Seríamos, enfim, como insistem os antropólogos, uma sociedade caracterizada por essencialidades particularíssimas, sem comparação com outros povos. Um caldo constante de autoengano e a opção preferencial pelo pensamento mágico, misturado com um catolicismo antimoderno de fundas raízes. E nosso tamanho e insularidade adicionariam outro ingrediente: a ignorância sobre o mundo e, como forma de alívio mental ante o desconhecido, a hostilidade em relação a tudo o que não seja parte dos hábitos locais, supervalorizados em face de nosso atraso. Em síntese: uma sociedade infantil e paroquial, presa facílima para os espertalhões da política.
Como professor universitário e pesquisador, conheci de perto os três grupos sociais que principalmente formaram o campo petista. Primeiramente, os religiosos católicos influenciados pela Teologia da Libertação. Portadores de dogmas petrificados em mais de 2 mil anos, depois misturados a um marxismo primário. Conduziam a verdade absoluta sobre tudo e, quando contrariados, se recusavam ao debate que os distanciasse do engessamento dogmático que faz o catolicismo tão bem-sucedido. Mas algo inaceitável para um partido político que precisa se ajustar à mutabilidade constante da política.
Em segundo lugar, convivi (e ainda convivo) com os colegas das universidades e do mundo da pesquisa atraídos para a política. No geral, com as exceções louváveis de sempre, tem sido uma experiência melancólica, pois muitos, incrivelmente, se recusam a pensar, quando esta seria a âncora principal de sua atividade como intelectuais e cientistas. Aceitam com passividade o obscurantismo e as tortas explicações dos caciques partidários. Algum dia, quando um historiador escrever sobre as relações entre os professores universitários, os pesquisadores e o campo petista, concluirá sobre o patetismo desses anos: haverá até a filósofa que pretendeu explicar Spinoza e terminou amaldiçoando a classe média, enquanto escrevia livros de culinária.
O terceiro grupo é o dos sindicalistas. Aqui, sem outros detalhes que seriam saborosíssimos, basta um: dirigentes e militantes sindicais se movem por um só vetor, o pragmatismo deformado. Sua única razão é a prática imediata. Sendo conduzidos por uma ótica (não uma ética) estritamente do momento, as interpretações, passadas e futuras, são irrelevantes, até desprezíveis. Movem-se somente pelo presente e, por isso, jamais são progressistas. A meta é apenas garantir poder, dinheiro, influência e o mandonismo como grupo. E o pragmatismo tem um segundo preceito: para ser dominante no presente, vale qualquer meio, pois o objetivo final o justifica plenamente.
Na história do campo petista, as relações entre os religiosos, os intelectuais e os sindicalistas produziram a vitória inconteste dos últimos. Como estão amarrados ao presente, o PT jamais poderá ser de esquerda, pois esse é ideário que supõe o porvir. Por isso, o desenvolvimento do campo petista, desde meados dos anos 90, nada tem de distinto, se comparado com os demais partidos. E nem terá no futuro. Por quê? É simples: o futuro é antevisto e antecipadamente construído com exercícios sistemáticos de reflexão sobre os fatos e a produção de cenários possíveis. O PT não faz mais esse esforço estratégico há quase 20 anos nem tem mais quadros técnicos à disposição para essa operação. Rendeu-se à razão pragmática do presente, e por isso nada tem de inovador a propor, recorrendo, cada vez mais, à empulhação para justificar-se.
Não obstante a complexidade da tarefa, não é difícil, portanto, de prever o futuro do PT. Será o mesmo dos demais partidos, imersos na mesmice mistificadora que todos já conhecem. Desta forma, a pergunta passa a ser outra: algum outro campo político reavivará as esperanças dos brasileiros?
*Zander Navarro é sociólogo e professor aposentado da UFRGS (Porto Alegre).
Fonte: O Estado de S. Paulo
Luciana Nunes Leal - O Estado de S. Paulo
A decisão da presidente Dilma Rousseff de iniciar o segundo mandato com medidas econômicas que ela classificou como "drásticas" é acertada, embora represente um "estelionato eleitoral", na avaliação do cientista político Carlos Pereira, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. O pesquisador acredita que Dilma enfrentará forte reação do eleitor que votou no PT e rejeitou os ajustes defendidos pelo senador Aécio Neves (MG), candidato do PSDB.
Além do custo político das medidas econômicas, Dilma começará o segundo mandato sob o impacto das investigações do esquema de corrupção na Petrobrás e pressionada pelos partidos aliados.
Que cenário o senhor prevê para o segundo mandato?
Esse estelionato eleitoral, essa traição dos compromissos de campanha, são benéficos para o Brasil. No curto prazo, os custos (das medidas econômicas) vão ser enormes. Mas, no longo prazo, está na direção correta. Com a indicação de Joaquim Levy (futuro ministro da Fazenda), ela procurou sinalizar uma direção que a campanha e o governo dela já deviam ter sinalizado. Mas é melhor tarde do que nunca. A taxa de juros possivelmente vai subir, a inflação não vai reduzir no curto prazo, o crescimento da economia será pequeno. A sensação de que a economia não está melhorando será dominante neste primeiro ano do segundo mandato, talvez no segundo ano também. O que eu vislumbro é mais dificuldade na área política.
Por quê?
A presidente está vulnerável politicamente. Os presidentes do Brasil que cometeram estelionato eleitoral foram punidos. José Sarney, depois das eleições (estaduais) de 1986, quando houve a desvalorização do cruzado. Fernando Collor era muito popular até não cumprir o prometido. Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato: nas eleições de 1998 (quando FHC foi reeleito), o real estava supervalorizado e, com a desvalorização logo em seguida, ele perdeu muita popularidade. O eleitor não gosta de ser enganado. Quando é enganado, ele pune.
Que mensagem a presidente quis dar ao escolher Joaquim Levy para a Fazenda?
A candidatura de Aécio representava a defesa do equilíbrio macroeconômico, enquanto a de Dilma representava mais políticas de proteção e inclusão social. A eleição foi tão polarizada porque eles não conseguiram sinalizar para o eleitor que eram capazes de ofertar as duas coisas. Dilma viu que não poderia mais continuar negligenciando a gerência macroeconômica. A escolha do Levy é a sinalização para esse eleitor que perdeu nas urnas de que ela está tentando preencher essa expectativa.
Que outros fatores contribuem para as dificuldades políticas que o senhor aponta?
A maioria no Congresso diminuiu. Ela vai enfrentar uma oposição, embora minoritária, mais aguerrida, com parlamentares com mais tradição de oposição, mais qualificados. Mais ainda, a presidente vai estar em uma situação defensiva em relação ao escândalo da Petrobrás. Fica refém de uma agenda muito negativa, o que, consequentemente, perturba a gerência da coalizão, porque os parceiros, percebendo que o governo está vulnerável, tendem a aumentar o seu poder de barganha.
O movimento por impeachment ainda é restrito a pequenos grupos. Pode avançar?
Não há evidências diretas que liguem a presidente ao esquema da Petrobrás. Se alguma evidência vier à tona, essas fragilidades vão se intensificar. Será reproduzido em um cenário de polarização, com uma grande parcela da população nas ruas demandando o impeachment da presidente e uma grande parcela nas ruas defendendo a presidente e alegando que essas saídas são golpistas. Será um teste de estresse das instituições democráticas.
A presidente pode mudar a relação com o Congresso e, ao contrário do primeiro mandato, buscar se aproximar dos aliados?
Mesmo que ela troque esse tipo de relação, tem uma coisa mais grave. A presidente tomou uma decisão muito ruim na montagem e na gerência de sua coalizão, que é muito ampla. Na minha opinião, isso está no centro dos escândalos de corrupção na gestão do PT, tanto em relação ao mensalão como ao petrolão.
Como o senhor acredita que as instituições lidarão com esse momento de fragilidade política?
Estou pessimista com o governo, mas otimista com o Brasil. Temos instituições de controle muito sólidas. O Judiciário e o Ministério Público são muito independentes, os tribunais de contas são bastante ativos, a Polícia Federal é extremamente investigativa, assim como a mídia. O arcabouço institucional é vivo e maduro. Embora o governo vá passar muitas dificuldades, acredito que o Brasil talvez se fortaleça.
Eike Batista profetizou que um dia as ações da OGX valeriam tanto quanto as da Petrobras. Segundo uma amarga e já célebre ironia que circula na internet, a profecia está prestes a se realizar, mas de um modo inesperado. Sob Lula e Dilma, a estatal do petróleo converteu-se na demonstração de um teorema: a identificação da pátria a um partido conduz à destruição em massa de riqueza social.
No princípio, era o tempo do mito. "O petróleo é nosso", lema da cruzada que se concluiu pela criação da Petrobras, extraía a sua força de uma narrativa clássica pela qual a nação assume a forma de coisas palpáveis: tesouros naturais engastados no subsolo. De acordo com a gramática mítica, a soberania nacional equivale ao monopólio estatal da exploração dessas substâncias cobiçadas por estrangeiros poderosos. A Petrobras somos nós, portanto.
O mito não tem tempo. É um registro eterno, imorredouro. Pereniza-se diante de nós, nas milionárias campanhas de publicidade da estatal --que são, de fato e ilegalmente, propaganda política do governo e do PT. Reacende-se periodicamente, nas campanhas eleitorais, como uma falsa mas repetitiva acusação de lesa-pátria contra oposicionistas que conspirariam para privatizar a Petrobras, desfazendo o tecido da nação.
No tempo das finanças, a Petrobras nunca foi nós. Organizada como Estado-paralelo, imune à fiscalização pública e à concorrência empresarial, a estatal tornou-se um veículo de corrupção endêmica: a lendária, valiosa "caixa-preta". Nesse registro, desde o princípio, a Petrobras são eles: os donos do Estado e seus sócios no mundo empresarial.
"Sempre foi assim", escrevem agora os áulicos de sempre e alguns convertidos recentes, não para denunciar os crimes do passado, mas para normalizar os do presente, ocultando sua singularidade. Sob Lula e Dilma, a corrupção endêmica evoluiu até o estágio de corrupção epidêmica e, por meio da distribuição partidária de diretorias, a estatal converteu-se em ferramenta de sustentação de um projeto de poder. A Petrobras são eles: o PT, o PMDB e o PP.
No Evangelho de Tomé, o "tesouro imperecível" encontra-se "onde as traças não se aproximam para comê-lo nem os vermes o destroem". Se o petróleo é um fetiche, o pré-sal é o fetiche absoluto. No Evangelho de Lula e Dilma, o pré-sal, "dádiva de Deus" ou "bilhete premiado", abrirá "as portas do futuro" e será "fonte de felicidade material e espiritual", trazendo "mais casas, mais comida e mais saúde".
Na foto icônica, um Lula de macacão laranja pousa a mão suja de petróleo nas costas do macacão laranja de Dilma. A inauguração do pré-sal é o dia do encontro dos dois tempos: naquele 21 de abril de 2006, impulsionado pelo motor da arrogância, Lula violou um tabu, profanando o mito. A Petrobras não somos nós nem eles, mas eu, estava dizendo o presidente, no cenário de campanha eleitoral da Plataforma P-50. Então, uma maldição silenciosa, implacável, desceu sobre a estatal.
A maldição engendrou o tempo da falência. Vergada sob o peso dos investimentos compulsórios exigidos pelo regime de partilha, a Petrobras consome o capital espectral aportado por títulos do Tesouro, ou seja, pelo trabalho das gerações futuras. Hoje, na conjuntura da retração dos preços do barril de petróleo e da apreciação do dólar, seu valor de mercado oscila em torno de um terço do valor de uma dívida multibilionária e seu patrimônio líquido é um enigma dentro de um segredo envolto no mistério de um balanço inauditável.
No "bilhete premiado" de Lula está escrito menos casas, menos comida, menos saúde. Depois da louca euforia do pré-sal, a Petrobras já não somos nós, nem eles, nem ele: é a dívida de nossos filhos e dos nossos netos que ainda não nasceram. Lembre-se disso a cada vez que escutar as marchinhas nacionalistas tocadas pelos menestréis da esperteza.
Fonte: Folha de S. Paulo
“Não quero que a Catalunha se separe da Espanha, mas sei que a casta espanhola insultou os catalães”.
Com frases assim — pontuais e abrangentes, corrosivas, sem papas na língua e sobretudo sem os jargões da linguagem política corrente –, Pablo Iglesias impulsiona o novo partido político Podemos, que cresce e ameaça revolver o mapa político espanhol.
Iglesias sabe se mexer. Professor de Ciência Política na Universidade Complutense de Madrid, antigo militante da União das Juventudes Comunistas, recém eleito eurodeputado, ele e seu partido são uma estrela em ascensão, a ocupar rapidamente espaço no universo das esquerdas espanholas. Segundo as sondagens, já bateu na casa dos 20% das preferências eleitorais.
Diz-se na Espanha que Podemos segue de perto aquilo que se costuma chamar de “pós-marxismo”, ao menos quanto à elasticidade de suas postulações e de seus vínculos. Sua fraseologia parece aceitar que os conceitos serão tanto mais eficientes quanto mais forem “flutuantes” (ideia que vem do pós-marxista argentino Ernesto Laclau, falecido no início do ano), pois assim facilitarão a articulação política do mal-estar. Não há obreirismo em suas propostas, nem foices e martelos, nem retratos do Che ou ideologias professadas como verdades duras. A proposta é ser um partido que atua na transversalidade social, com um discurso fortemente centrado na crítica social e uma linguagem irreverente, empregada com esmero para criar polarizações de novo tipo e novas polarizações. Alguns analistas o vêem como uma espécie de “partido da raiva urbana”. Faz sentido.
Cola bem na Espanha atual, cansada de uma crise que se arrasta há sete anos e estagnada por um bipartidarismo imperfeito no qual diversos pequenos partidos regionais giram em torno de PSOE e PP, os dois principais, que, juntos, receberam cerca de 80% dos votos nas eleições de 2004. Os partidos, a começar dos maiores, monopolizam o sistema político, intermediando as relações entre Estado e sociedade. Em suma, têm um extraordinário peso na vida espanhola. Agradam e desagradam, e quando as coisas vão mal passam a ser vistos com desconfiança, incrementando a tendência atual de desvalorização dos partidos e dos políticos perante a cidadania. Situação que em boa medida impulsiona o surgimento de propostas novas, seja em termos programáticos seja sobretudo em termos de linguagem e organização.
Podemos é filho desta situação. Reflete um momento de crise política e de crise das esquerdas. Quer ser um refundador do modo de fazer política e do discurso político.
Pensa a Espanha como “um país de países, um país de nações”, um Estado multinacional e multicultural complexo ainda em busca de uma composição institucional estável e igualitária. Suas propostas prevêem a abertura de um processo constituinte no qual seja possível discutir tudo com todos. O foco principal é simples: libertar a política do dinheiro e das chantagens do mundo empresarial, romper a lógica política do capital. Mas sem ficar à margem, atirando dardos e pedras a partir de fora contra a política, com candidaturas românticas e inviáveis.
Podemos quer entrar na política e ser uma alternativa efetiva. Uma ponte entre democracia participativa e democracia representativa. Sem fazer concessões, o que significa não compactuar com a velha política, da qual pretende ser a crítica radical.
Mas também sem se colocar numa posição abstrata de “vanguarda”. Reverbera, neste aspecto, os slogans e as expectativas dos Indignados de 2012, movimento do qual derivou. Deste modo pretende contribuir para repor os cidadãos no centro mesmo da vida política.
Podemos é espanhol, mas também é europeu. Reflete claramente a situação do velho continente, seus descompassos e assimetrias, o desnível que separa Portugal, Espanha e Grécia dos países mais ao norte. Faz dupla com o Syriza grego, de Alexis Tsipras, que também cresce com força e com propostas semelhantes. Espelha a dificuldade que as esquerdas de todos os países estão apresentando de dialogar com as novas agendas e as novas aspirações populares. Deixa evidente que há um gap profundo inviabilizando os partidos tradicionais e a forma-partido que teve sua fortuna no século XX.
Propõe-se, por isso, a ter uma estrutura leve e reduzida, aberta à participação dos cidadãos e a formas de deliberação ampliada, por votação direta e consultas via internet. É contra, porém, o assembleismo, com seus tempos dilatados e suas manipulações. É mais um movimento e uma rede que um partido: um “partido-movimento”, algo a ser ainda experimentado.
O sucesso inicial de Podemos cria certamente expectativas quanto a seu próprio futuro. Ao se institucionalizar e acumular poder, qualquer organização perde o frescor da novidade e enfrenta o perigo da burocratização e do distanciamento em relação a seus apoiadores. Riscos, em suma, existirão. Mas não parecem assustar suas lideranças. “Cabe construir um espaço político com características novas”, afirma Iglesias. O sucesso obtido em 2014 “tem a ver com um nível de protagonismo dos ativistas incompatível com a forma de partido que conhecemos até agora. Quem pensa com noções velhas não entendeu o processo político que a Espanha está vivendo.”
A aposta de Podemos está feita. Repercute bem e pode de fato vencer, criando um vetor diferente na política tradicional. Longe de etiquetas, jargões e fórmulas conhecidas. Se for assim, terá lugar assegurado na construção democrática exigida pelas sociedades do século XXI. Vale a pena acompanhar.
Será que é por falta dos gansos do Capitólio romano que, com o alarido do seu grasnar, advertiram os soldados que faziam sua guarda da presença ameaçadora do inimigo prestes a invadir a cidade, e assim puderam se defender? Que sinais ainda aguardamos para nos precaver dos riscos que rondam a nossa democracia tão duramente conquistada? A crônica política, desde que a sucessão presidencial, a partir da morte trágica do candidato Eduardo Campos, deixou de ser uma passarela por onde a candidata à reeleição cumpriria seu trajeto triunfal, parece ter-se convertido em mais um episódio do extraordinário filme argentino Relatos Selvagens, em que seus personagens, mesmo à custa da sua ruína pessoal, se entregam ao domínio da cólera e da agressividade irracional contra quem lhes contrarie.
Essa síndrome se instalou com o terror experimentado pelas hostes da candidatura governista quando o cenário de uma derrota eleitoral surgiu no radar, hipótese antes não cogitada a sério por gregos e troianos e que ganhou plausibilidade com a fulminante ascensão de Marina Silva nas primeiras pesquisas. A estratégia adotada pelas forças governistas foi, como sabido, a da desconstrução metódica da campanha da oponente, o que se cumpriu, é verdade, ainda nos marcos de uma argumentação racional. Mas, com o crescimento da candidatura de Aécio Neves, vinda no vácuo de Marina, foi levada ao paroxismo. A disputa eleitoral foi, então, nomeada como uma manifestação de luta de classes, que, por soar ridículo no cenário que aí está, foi logo renomeada como entre pobres e ricos a fim de explorar o tema funesto do ressentimento social.
Sob esse registro malévolo, a campanha da candidata Dilma destampou a arca onde jaziam velhas assombrações, como a do populismo, que, finda a sucessão, resistem a retornar a seu lugar de origem. Não se faz pacto com o diabo impunemente, ele sempre cobra a conta. Se o passado deveria ser trazido à tona em estado bruto, sem crítica e elaboração reflexiva, ele nos foi devolvido com o que nele havia de pior: manifestantes bradando nas ruas pelo retorno do regime militar e outros, com um roqueiro de caricatura à frente, pelo impeachment; ecoam no Parlamento relatos selvagens dos discursos do deputado Jair Bolsonaro; e até ministros, como Gilberto Carvalho, tecem considerações públicas sobre adversários políticos com a linguagem de cafajestes de turmas de esquina.
O escândalo da Petrobrás, por sua vez, traz de volta ao noticiário a expressão mar de lama, de nefasta memória, para tratar das incestuosas relações mantidas entre as esferas do público, incluindo partidos políticos em posições de governo, com as do privado, como as que ocorreram na administração dessa estatal. E, agora, quando não se conta mais no governo com o ex-ministro Nelson Jobim, o ex-deputado Aldo Rebelo e o ex-deputado José Genoino, que acumularam expertise no trato com a questão militar, nada inverossímil a possibilidade de que eventuais intervenções desastradas, na condução dos rumos a serem dados ao relatório da Comissão da Verdade, venham a desatar episódios do tipo dos narrados no filme argentino.
Mas nem o diabo nos trará de volta aos idos do pré-64 que nos levaram, irrefletidamente, ao golpe militar. Em primeiro lugar, porque foi a própria presidente eleita quem desarmou o petardo que esteve em suas mãos durante a campanha ao propor um diálogo com as forças políticas, sobretudo quando indicou suas opções para os ministérios responsáveis pela condução dos destinos econômicos em sua nova administração. A breve súmula que os indicados por ela apresentaram publicamente à Nação, longe de expressar uma regressão populista alardeada nos tempos da campanha, cortou secamente com ela. Por fas ou nefas, o PT foi ao encontro do programa econômico da oposição. Não é por aí que os pescadores de águas turvas terão como prosperar.
Mas, em meio a tantos fios desencapados, de ciência certa para sairmos dessa confusão em que estamos envolvidos, contamos com o mapa da Carta de 1988, filha das lutas pela democracia travadas contra o regime autoritário dos Atos Institucionais, que tem passado com bravura por graves crises políticas, como no impeachment do presidente Collor e no episódio conhecido como mensalão. A ela devemos um Poder Judiciário autônomo dotado da capacidade de impor limites, em nome dos direitos da cidadania, ao poder político, e, muito particularmente, na institucionalização de um Ministério Público independente do Estado com a missão de defender as instituições da democracia, uma criação original do Direito brasileiro.
Pois é para esse lugar, refratário às manifestações selvagens, que agora convergem tanto a controvérsia suscitada pela Comissão da Verdade sobre a Lei da Anistia quanto a dos resultados das investigações da chamada Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pela Justiça Federal do Paraná. Da primeira, esperam-se a pacificação e um sinal de advertência para que todos não reincidam nos erros do passado, que atrasaram por miseráveis 20 anos nosso encontro com o moderno, que ainda tarda, como se constata com este vozerio populista que nos ronda.
Da segunda, cujos relatos parciais e provisórios já se fazem públicos, e que, mais uma vez, revelam - agora sob a jurisdição de um juiz de primeira instância, o que é de comemorar - as perversas relações que cultivamos entre o poder e o dinheiro, espera-se, além da punição dos culpados, a abertura de um debate público sobre a necessidade de uma reforma política, a partir do qual os partidos políticos, sob regime de urgência, encontrem no Legislativo uma solução que ponha fim nesta raiz funda dos nossos males.
Uma última frase: quem ler Jurisdição Constitucional como Democracia, obra de 2004 do juiz Sergio Fernando Moro, saberá reconhecer que ele é a pessoa certa no lugar certo.
Fonte:O Estado de S. Paulo
As análises são quase unânimes: a eleição de 2014 marcou forte avanço conservador, não apenas no espectro político tradicional, em que a esquerda seria progressista e a direita, conservadora, mas também no campo dos costumes, no qual parlamentares opostos às novas formas de vida afetiva ganharam pontos. O desplante com que um deputado, useiro e vezeiro em hostilizar a liberdade pessoal, se permitiu usar a palavra "estupro" é significativo disso.
Mesmo assim, se Dilma foi reeleita, foi graças à esquerda. Não podemos, numa análise fria dos acontecimentos, ignorar este fato. Isso não quer dizer que foi a esquerda quem elegeu Dilma. Ela teve votos de famílias políticas bem variadas. Mas no momento decisivo, em que se formularam os argumentos decisivos para a reeleição, em que se construiu o imaginário que forjaria a unidade que a elegeu, o discurso foi de esquerda.
Dilma e seu governo não foram - nem são - de esquerda. Porém, na reta final da campanha, o que a levou à vitória foi uma sensibilidade deste lado político. Foi isso o que irritou tanto seus principais adversários. Possivelmente não foi tanto a forma, os "maus modos", o que os revoltou (a implacável "desconstrução" de Marina e, em menor escala, de Aécio), mas sim o conteúdo do que foi levantado contra ambos. Poderia ter sido mais leve; irritaria igual.
Pois onde esteve a esquerda na campanha? Na defesa dos programas sociais. Sim, Aécio fez bem em assumir o Bolsa Família. Foi o primeiro presidenciável tucano a fazê-lo de maneira decidida. Com isso, se não ganhou a eleição, teve uma votação consagradora e garantiu para o PSDB a liderança na oposição - uma posição que este ano até correu risco. Mas acontece que, no arsenal petista contra a miséria, o Bolsa Família foi cedendo lugar ao aumento constante do salário mínimo até o patamar constitucional, que aliás não é tão diferente do seu valor original na década de 1940. A franqueza de Arminio Fraga, ao dizer que seria difícil manter os aumentos reais do salário mínimo, pode ter custado votos ao candidato tucano.
Afirmei mais de uma vez que nem os tucanos queriam acabar com os programas sociais, nem os petistas destruir a economia: mas que cada lado tinha uma prioridade. Do lado tucano, a ênfase na racionalidade dos agentes econômicos, para promoverem o desenvolvimento, acarretava implicitamente a descrença na racionalidade dos movimentos sociais. Ora, o eixo do ataque "de esquerda" aos dois candidatos de oposição consistiu justamente nisso: nenhum deles teria compromisso prioritário com o combate à pobreza. Essa percepção emplacou.
Agora, dá para dizer que, com a nomeação para as pastas econômicas, foram plagiados os programas de Aécio e Marina, ou traída a esquerda que apoiou Dilma? Não. A economia é o meio imprescindível para as mudanças sociais que a candidata reeleita quer implantar. Se tiver de escolher entre o desenvolvimentismo praticado nos últimos anos e uma economia mais ortodoxa, ela optará pelo meio que preserve a capacidade estatal de investir no setor social - hoje, o segundo.
Dilma certamente tem suas preferências econômicas. Não são as do grande empresariado. Ela tentou adotá-las entre 2011 e 2014. Economista, ao contrário de Lula, suas convicções econômicas são mais fortes do que as do seu antecessor no cargo. Mas, mesmo assim, o crucial é a política social. Daí que faça sentido sacrificar certos anéis para salvar os dedos - abrindo mão de parte, ao menos, da política econômica Dilma 1.0 para garantir os recursos, tributários ou de capital, necessários para dar continuidade aos avanços sociais.
Fique muito claro: sem avanços sociais, adeus PT. Daí, o papel, necessário mas subordinado, da economia no segundo mandato. Num governo Aécio, Arminio seria, pelo menos nos primeiros tempos, o "chief minister". Já Dilma fez questão de não aparecer na posse de seus ministros da área econômica. Eles podem ter condicionado sua aceitação dos cargos à prévia aprovação, pelo Congresso, da mudança de metas na economia. Podem ter dito que não queriam misturar suas mãos pró-mercado com isso. Ela não teria como recusar essa limpeza prévia de terreno. Mas, de sua parte, Dilma deve ter querido mostrar que a nova política econômica é decisiva, porém só como meio, não como fim. Os fins continuam sendo sociais. Sem isso, o PT vira um PSDB.
Quer isso dizer que o poder está com a esquerda? Não, nem no sonho. Na verdade, a esquerda decidiu apoiar uma presidenta que valoriza os programas sociais, sim, mas não é propriamente de esquerda. Como Dilma vai conciliar uma certa austeridade na economia com investimentos sociais, não será simples. Mas este é o único caminho que faz sentido. Dilma e o PT sabem muito bem que, se for para agirem como agiram os últimos governos socialistas na Espanha e Portugal, ou está agindo o último na França, aplicando a política dos sonhos da direita... bem, esse será o melhor meio de perder as próximas eleições. Dilma e o PT têm que agir de outro modo. Isso vai requerer habilidade política? Toda a que conseguirem mobilizar.
Esse caminho pode dar errado, é claro. Mas a política é a arte de lidar com a quadratura do círculo. FHC e Lula foram mestres nisso. Na política, estica-se o limite do possível. Uma coisa é fato: os economistas têm razão em que não se pode ignorar o limite realista que é haver dinheiro para promover medidas sociais. Mas a novidade é que, em sociedades em intensa democratização, o que se dá pela inclusão dos mais pobres, também não é possível retroceder, sem causar problemas sérios.
Fonte: Valor Econômico
O professor da Fundação Getulio Vargas Carlos Pereira formou-se em medicina, mas preferiu seguir carreira acadêmica como cientista político. Tornou-se um arguto analista do funcionamento da política no Brasil. Para ele, o sistema precisa de ajustes, mas é bom porque tem garantido, numa democracia relativamente jovem, estabilidade política, resolução de conflitos sem violência, redução da pobreza, equilíbrio macroeconômico e representação de interesses no jogo político. Num trabalho recentemente apresentado na Universidade de Oxford, no Reino Unido, ele argumenta que os escândalos se sucedem porque o PT, em seus governos, não tem dividido o poder com seus aliados, regra essencial do presidencialismo de coalizão.
ÉPOCA - Teremos uma tempestade perfeita em 2015?
Carlos Pereira - É muito provável. Embora esteja muito otimista com o Brasil, estou pessimista com o governo. O governo perdeu consideravelmente seu poder no Congresso, apesar de ser majoritário. Há agora uma bancada de oposição não só numericamente mais forte, mas com figuras aguerridas e maior peso político. Existe também um cenário de explosão do maior escândalo de corrupção de nossa história. Será difícil para o governo escapar de ser chamuscado. O receio é que a mesma polarização das eleições seja reproduzida em 2015, num quadro de paralisia da economia, crescimento da inflação e desemprego.
ÉPOCA - A presidente Dilma Rousseff corre risco de impeachment?
Pereira - Esse risco só se tornará real se evidências concretas relacionarem diretamente Dilma ao petrolão. Um impeachment depende também de condições políticas. Falando de um cenário hipotético, diferentemente de Collor, Dilma tem um partido político com base e inserção social. CUT, MST, sindicatos e movimentos sociais sairão em defesa do governo. Esses grupos irão para a rua e alegarão que isso é um golpe, embora a Constituição brasileira pressuponha o impeachment como uma saída legal, diante de conflitos que envolvem crimes de responsabilidade. Já há manifestações de pequeno porte pelo impeachment. Se evidências surgirem, ocorrerão manifestações maiores. Então, os dois grupos entrarão em conflito.
ÉPOCA - Isso pode trazer grande instabilidade para o país?
Pereira - Seria um grande teste para as instituições democráticas. Até que ponto elas estão suficientemente maduras para segurar um processo de impeachment com grande polarização? Esse cenário tende a se tornar ainda mais complicado, porque o PT gerencia de forma ruim suas coalizões. O PT, tradicionalmente, desde quando Lula assumiu a Presidência, preferiu construir coalizões com número grande de parceiros, muito heterogêneos. Eles não têm uma plataforma comum de ação. É difícil coordenar uma coalizão dessas, e o PT ainda tem optado por não compartilhar poder com os parceiros, numa postura monopolista de concentração de poder. Lula alocou 60% dos 35 ministérios no começo de seu governo nas mãos do PT. Seu principal parceiro, o PMDB, só tinha dois ministérios. Depois, conseguiu ampliar, mas continuou subcompensado. O governo Dilma continuou com uma coalizão grande demais, heterogênea e monopolista. Isso gera tensões e animosidades internas. Aí o governo tem de encontrar outros mecanismos de recompensa para esses parceiros. Agora, nessa situação de vulnerabilidade do governo, o preço desse apoio, principalmente do PMDB, aumentará muito.
ÉPOCA - Mas o PMDB será atingido em cheio pelo petrolão.
Pereira - Por isso mesmo, o preço do apoio aumentará. Para que eles continuem unidos sem risco de quebra. Por quase três semanas, o PMDB fez corpo mole em relação à mudança da meta fiscal. Deu um sinal à presidente de que o futuro do governo depende do PMDB. Se ela não percebeu e continuar menosprezando o PMDB e outros parceiros, todos esses atores aumentarão seu poder de barganha, à medida que o governo se fragilizar.
ÉPOCA - Como o senhor acha que o governo reagirá?
Pereira - O governo assumiu uma postura defensiva de transferir responsabilidade. Dilma pegou a bandeira da reforma política para mostrar que a culpa não é do governo, mas do sistema político. O governo também tentará se aproximar cada vez mais da sociedade, com essas saídas plebiscitárias, à medida que, progressivamente, perder apoio no Parlamento e tornar-se refém dos parceiros. É esse cenário bastante negativo que vejo para o governo, mesmo que não surjam vinculações diretas entre Dilma e o petrolão. O governo ficará muito vulnerável, reagindo ao turbilhão de denúncias que não para.
ÉPOCA - No primeiro mandato, a presidente Dilma mostrou quase nenhuma aptidão para esse jogo político com o Congresso.
Pereira - Ela se mostrou, com certeza, uma péssima gerente da coalizão. Criei um índice de custo de governo. Calculei todos os custos que o Executivo tem com seus aliados - com cargos, ministérios e emendas parlamentares no Orçamento, desde 1994 (começo do governo Fernando Henrique Cardoso) até agora. Esse custo vem crescendo exponencialmente. O índice tem três variáveis: tamanho da coalizão, heterogeneidade ideológica e capacidade do governo de compartilhar o poder com os parceiros. O resultado foi claro: quanto maior a coalizão, quanto mais heterogênea ela é e quanto menos poder é compartilhado, maior é o custo de governar. Também dividi a variável custo pelas iniciativas do Executivo aprovadas no Congresso. Na série histórica, o governo mais ineficiente é da Dilma. Ela gasta muito e consegue aprovar o mínimo possível. Se você não gerencia bem a coalizão, não escolhe bem os aliados, não tem uma agenda em comum com eles nem compartilha poder, não adianta gastar mais. Não conseguirá mais apoio.
ÉPOCA - Dilma, no segundo mandato, poderá mudar a gestão política, como deu a entender que mudará na economia?
Pereira - A indicação do Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda não foi um movimento para a coalizão. Foi um movimento para os eleitores. A sociedade ficou dividida nas eleições sobre duas crenças. A primeira, claramente favorável à proteção e à inclusão social, foi encarnada pela candidatura dela. A candidatura de Aécio Neves encarnou fundamentalmente os princípios de equilíbrio macroeconômico. A sociedade queria as duas coisas. Nenhuma das candidaturas ofertou as duas ao mesmo tempo. Por isso, a margem de vitória dela foi tão pequena. Ela sabe disso e que enfrentará um ano difícil. Se não desse um sinal para esse eleitorado perdedor, as condições de governo ficariam piores. A indicação de Levy foi menos uma concessão à gestão da coalizão e mais sinal de sobrevivência política depois de uma eleição muito competitiva. Com relação à gestão da coalizão, espero que ela aprenda com os erros do passado. Mas nada me leva a achar que ela mudará de postura.
ÉPOCA - Por que o senhor está então otimista com o Brasil?
Pereira - Estou otimista com a evolução e a maturidade das instituições, como o Ministério Público, os Tribunais de Contas, a Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal. São tantos grupos capazes de identificar malfeitos que mesmo pessoas muito ricas e muito poderosas não são capazes de subornar segmentos dessas instituições de controle. Isso mostra a grande solidez das instituições democráticas.
ÉPOCA - Apesar disso, o petrolão ressuscitou a discussão sobre uma reforma política. Critica-se o presidencialismo de coalizão.
Pereira - Quando o modelo é bem gerido, o custo é baixo. Já tivemos governos anteriores que geriram bem. O governo Fernando Henrique Cardoso montou uma coalizão de apenas quatro parceiros: PSDB, PFL, PTB e PMDB. Os quatro tinham uma agenda parecida de centro-direita, a favor da privatização, do controle inflacionário, da modernização da economia. Todos falavam a mesma linguagem. FHC levou em consideração o peso de cada um desses partidos no Congresso para alocar ministérios e cargos. Isso comprometeu os partidos com seu governo. Com a chegada de Lula e o desrespeito a essa regra de ouro da gestão de coalizão -dividir poder levando em consideração o peso de cada um -, surgiu progressivamente a necessidade de criar moedas de troca heterodoxas. O mensalão foi isso, assim como o petrolão. Esses escândalos de corrupção ocorrem nos governos petistas pelo não entendimento de como funciona o presidencialismo de coalizão. Existe, no âmago do PT, uma dificuldade de entender que é necessário compartilhar poder para que o presidencialismo de coalizão funcione bem. O PT, diferentemente de outras siglas brasileiras, tem muitas facções. Parece muito o partido peronista argentino. Tem vários grupos que fúncionam como partidos dentro do PT. O PT prefere ser proporcional com as facções internas e desproporcional com os parceiros externos da coalizão. Só que são os parceiros externos que têm peso político no Congresso. Ao fazer isso, o PT precisa arrumar outras moedas, como o petrolão e o mensalão, para fazê-los felizes. Como há muitos escândalos, a percepção da opinião pública é que há algo de errado no sistema político. O problema é de gestão. Não está no desenho do sistema. Ele tem falhas e precisa de ajustes, mas funciona relativamente bem. Se tivéssemos um grupo político que entendesse melhor o presidencialismo de coalizão, os problemas seriam menores.
Fonte: Guilherme Evelin - Época
O mundo e o Brasil mudaram com a globalização. Tanto discutimos isso, todavia não prevíamos como as mudanças no mundo iriam influenciar a trajetória da corrupção no Brasil.
Tratados internacionais novas leis domésticas, o panorama mudou.
De duas empresas europeias, Siemens e SBM, vieram dados sobre a corrupção na venda de trens e plataformas marinhas; de uma empresa americana, Dallas Airmotive, dados sobre a corrupção de oficiais da FAB e do governo de Roraima. A Suíça recebeu procuradores brasileiros que rastreiam parte da grana do petrolão. Colabora muito mais do que antes, nos tempos em que se fechava em copas para tranquilizar as grandes fortunas estrangeiras. Nos EUA investigam-se a Petrobrás e a compra de Pasadena, que não passa e não passará incólume às lentes americanas.
O Brasil mudou. Ampliaram-se as ferramentas de investigação, e-mails são recuperados, câmeras estão por toda parte, ampliou-se a troca de informações com o mundo, tudo isso é um sinal de que a corrupção endêmica no País não é eterna, como pensam alguns. O universo petista parece ignorar essas mudanças: embora sempre afirme que as investigações cresceram com o governo, o que cresceu foi a autonomia da Polícia Federal, muitas vezes esquecida.
Lembro-me de uma demonstração de policiais federais em Brasília. Estavam nas ruas porque queriam produzir mais e havia uma queda nas investigações. Isso foi no fim de 2013.
Uma prova de que o PT não compreendeu essas mudanças foi o relatório do deputado Marco Maia afirmando que Pasadena foi um bom negócio.
"Vocês querem bacalhau?", perguntava o Chacrinha. Tome macarrão, responde o governo, instituindo o Dia do Macarrão.
Como é possível afirmar que Pasadena foi um bom negócio? Ainda mais num momento em que a Operação Lavo Jato rastreia propinas recebidas por intermediários brasileiros. Diante dessas evidências, só restaria aos defensores da compra de Pasadena, que nos deu um prejuízo de cerca de US$ 700 milhões, afirmar: foi um negócio tão bom que até nossos corruptos ganharam algum dinheiro.
Não há o que argumentar diante de tanto cinismo. O governo arruinou a Petrobrás, reduzindo em R$ 600 bilhões o seu valor, de 2008 até agora.
Vi pátios de equipamentos ociosos no Sul e leio agora que unidade de nafta, de R$ 32 milhões, será perdida no Rio. É superfaturada e antieconômica.
Quando é que Dilma vai sentar à mesa e dar o balanço desse vendaval? Revelações de uma alta funcionária mostram que o esquema de corrupção era antigo e os diretores foram dele informados. O governo pretende atravessar essa tormenta com o mesmo time que permitiu o processo de saque na Petrobrás. E diante de uma conjuntura internacional com baixos preços do óleo, o que reduz a competitividade do pré-sal.
Apesar da dimensão gigantesca do escândalo na Petrobrás, o que vazou até agora indica irregularidades em vários campos: dos fundos de pensão às hidrelétricas, de aeroportos ao BNDES. O contexto é de crise econômica, mas esses fatores morais não se limitam à política. A própria credibilidade internacional do Brasil está em jogo. O que devem pensar os americanos diante de um deputado que disse que Pasadena foi um bom negócio? O próprio barão belga que nos vendeu a refinaria deve ter reagido com uma gargalhada.
O governo conta historinhas aqui e ignora o mundo. Pena que a oposição também ignore. Numa articulação com parlamentares europeus e americanos poderia saber mais, perguntar mais.
O esquecimento do mundo é daqueles fatores que entristecem no Brasil de hoje. Dilma aniquilou a diplomacia presidencial e parece querer aniquilar a própria diplomacia, subestimando um núcleo de profissionais competentes.
Talvez nosso papel não seja tão importante como se supôs. Entre superestimar o próprio papel e simplesmente sair de cena há uma diferença, que não tem peso eleitoral, mas vai produzir suas consequências.
Não importa que governo e oposição ignorem o mundo. Ele sempre nos vai chegar, sobretudo nesse movimento que força as grandes empresas a se reconciliarem com a lei e a sociedade. Os dados vêm de fora, brotam aqui dentro, nada mais vai deter o processo de transparência que a própria tecnologia potencializa.
O PT e seus aliados deveriam ler Fim de Jogo, de Samuel Beckett, no trecho em que o personagem diz: "Acabou, Clov, acabamos". Não é possível assaltar as estatais para financiar campanhas e enriquecer. Um ramo sofisticado caiu por terra na Petrobrás. Outros cairão.
Não sei o que virá adiante. Suspeito que criem o dia da maionese. Lula elaborou a palavra de ordem ao PT: cabeça erguida. Melhor seria bunda na parede. Não vão soterrar esse turbilhão de dados com historinhas como a de Marco Maia e sua CPI. Se depois de arruinar a Petrobrás o PT escolheu a cabeça erguida, confirma um pouco minhas suspeitas: depois dos punhos erguidos no mensalão, cabeça erguida no petrolão.
Quanta autoestima! Enrolam-se na Bandeira do Brasil, arrasam a maior empresa pública, comprometem a credibilidade internacional e acham que está tudo bem, exceto para uma elite mal-humorada e articulistas de direita.
O governo vive um bloqueio do tamanho do petrolão. Não tem outro caminho futuro exceto explicar suas responsabilidades. Até o momento, está dando velhas respostas para novas perguntas.
Com o braço numa tipoia azul, Marco Maia parecia vir de um combate físico com as próprias evidências da corrupção. Pasadena foi um bom negócio, parecia dizer, sofremos algumas escoriações, mas está tudo bem. Boa imagem de fim de ano para quem acredita em Papai Noel. Ou para quem desconfia que os combatentes estão chegando à exaustão ante os fatos.
P.S.: Este artigo estava pronto quando Marco Maia voltou atrás sobre Pasadena.
A duas semanas da posse, o governo reeleito dá mostras de que está sem projeto, sem força política e sem autoridade moral.
O que se anuncia é um mandato anêmico, pautado por crises sucessivas e medidas improvisadas visando contê-las. O quadro reforça a pertinência da recomendação, atribuída a Eça de Queiroz, de que governos e fraldas devem ser trocados periodicamente --e pelo mesmo motivo! Como não foi o caso, resta amargar.
A virada foi completa. Em poucos anos, o Brasil passou de estrela do mundo emergente a país submergente. Se por um breve interlúdio gozamos a ilusão da "ilha de prosperidade em meio a um mar turbulento" (para evocar o bordão do general Geisel ressuscitado por Lula 2), agora estamos perto de virar o oposto. Enquanto o mundo reemerge, o Brasil afunda.
O que deu errado? As causas próximas são múltiplas e vão desde os equívocos e barbeiragens da política econômica (macro e micro) à aposta redobrada no modelo do presidencialismo de condomínio, por meio da cessão de glebas do governo ao que há de pior na política brasileira. Penso, no entanto, que na raiz do nosso retrocesso existe um fator subjacente comum e de amplo alcance.
O ponto é que os governos petistas --e com mais ímpeto após a eclosão do mensalão na política e da crise de 2008 na economia-- levaram a deformação patrimonialista do Estado brasileiro a um novo e exacerbado patamar, com tudo que isso acarreta em termos de distorção nas relações entre público e privado, piora na alocação de recursos, ruína da governança e degradação dos padrões éticos.
A melhor evidência disso é a Petrobras. A cada nova revelação, a saga se torna mais emblemática. O maior escândalo de corrupção da história do Brasil --e o certame não é fácil-- não é fruto apenas da fraude contábil e da ganância corporativa, como no colapso da Enron americana.
O que temos aqui são empresas privadas, burocratas estatais e políticos em estreito e estruturado conluio visando maximizar, à guarida dos "donos do poder" e às custas do resto da nação, lucros espúrios, fortunas pessoais e projetos de apropriação continuada do Estado.
O "capitalismo politicamente orientado" não nasceu com o mandarinato petista --veio com as caravelas--, mas foi levado ao paroxismo por ele. A recaída patrimonialista é o enredo cifrado do drama cujo desenrolar anima a crônica diária da encrenca econômica, ética e política em que estamos metidos.
Embora não esteja ao alcance das instituições, quando são boas, fazer todo um povo prosperar --só o trabalho, a inovação e o cuidado com o amanhã têm tal poder--, elas são capazes, quando nocivas, de condená-lo à eterna mediocridade.
Fonte: Folha de S. Paulo
Um fato causou surpresa nas últimas eleições presidenciais: o apoio quase unânime das centrais sindicais à candidata do PT. De procedências, concepções e práticas muito diversas, sempre às turras e trocando impropérios, as centrais travaram, durante longo tempo, competição pelo domínio do movimento sindical. Nos últimos anos, no entanto, deram de andar de braços dados, afinados e em estranha harmonia.
Como explicar a inusitada reviravolta e a misteriosa unanimidade? Um recuo, não muito distante, na História, pode contribuir, para o entendimento dessa aliança, suas motivações, conveniências e seus interesses.
Nos anos 1970/80, algumas teses acadêmicas sobre o sindicalismo tornaram-se correntes. Difundidas pela mídia e por outras instituições da sociedade civil, penetraram e disseminaram-se no movimento operário e sindical e converteram-se em hegemônicas - estiveram mesmo na base e na origem da reordenação do movimento sindical e da esquerda naqueles anos. Afirmavam, em linhas gerais, que o movimento operário/sindical até 1930 fora um movimento combativo, autônomo e revolucionário e, após essa data, teria sido derrotado e subordinado ao Estado; convertido em organismo burocratizado, de colaboração, passou a ser manipulado pelo populismo. Essa situação teria perdurado até 1978/80, quando o autêntico movimento operário/sindical, no ABC paulista, teria iniciado sua ressurreição.
O "novo sindicalismo", como passou a ser denominado, contestava desde a estrutura sindical (unicidade, verticalização, imposto sindical) até a intervenção e mediação do Estado nas relações entre capital e trabalho. A luta por autonomia e liberdade sindical confundiu-se com o combate ao Estado, à defesa da negociação direta entre patrões e trabalhadores e ao livre-arbítrio do mercado na compra e venda da força de trabalho. A principal liderança do "novo sindicalismo" (Lula) chegou mesmo a afirmar que a Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT) era o "AI-5 da classe operária".
Aquelas análises e teorias forneceram lastro intelectual e suporte ideológico ao "novo sindicalismo", ao serem tornadas - pela mídia, pela Igreja, pelos intelectuais, sindicatos, partidos e outros setores da sociedade civil - ideias-força. É fato que o Partido dos Trabalhadores (PT) e seu braço sindical, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), gerados na luta contra a política trabalhista da ditadura, fizeram sua aparição pública combatendo o intervencionismo estatal, identificado como autoritário.
Na passagem dos anos 1980/90, uma série de fenômenos e acontecimentos alteraria tal atitude. O conjunto de transformações, que já estava em curso em outras partes do mundo, passou a incidir de modo mais direto no Brasil e alterou substancialmente as relações de trabalho, com repercussões intensas e extensas na forma de organização sindical e política e nos movimentos reivindicativos dos trabalhadores.
Foi quando se colocou a questão da reforma do Estado e, no seu bojo, a revisão da legislação trabalhista, com a alteração da estrutura sindical e a modificação da Justiça do Trabalho. E qual foi a reação do sindicalismo petista (e das demais centrais) contra a ofensiva neoliberal que propugnava a mutilação e subtração de direitos sociais? De resistência e de conservação dos fundamentos corporativos da CLT, postos em questão pela competição desumana e rude do mercado. Sem propor alternativas, agarrou-se à defesa do velho corporativismo. As vantagens deste se converteram numa espécie de canto de sereia e passaram a ser desfrutadas pragmaticamente, de maneira oportuna e utilitária, não só aos desígnios sindicais, mas também aos partidários. Bandeiras de luta do passado recente foram negligenciadas; aceitou-se o fim da tutela, mas abdicou-se da emancipação sem reservas; adequou-se aos princípios da unicidade e da verticalização e adotou-se o imposto sindical como útil e necessário.
Ultimada sua conversão definitiva ao "mundo dos interesses" - que coincide com a metamorfose petista -, a CUT pôde então aventurar-se a lances mais ousados, como à "governança corporativa", ao sindicalismo empreendedor, ao mercado financeiro, à gestão dos fundos de pensão, etc. Estavam criadas as condições necessárias para sua concertação com as vertentes ministerialistas e com o sindicalismo de resultados. Selava-se aí um pacto tácito de unidade e ação entre capital e trabalho, novo e velho sindicalismo, público e privado, patrimonialismo e corporativismo.
Na sequência e já elevado ao poder central da República, o PT viria a redimir o "Estado varguista", sua estrutura e sua forma de se relacionar com a sociedade civil.
Reviveu até mesmo, em muitos aspectos, o projeto nacional-desenvolvimentista, agora já anacrônico. O mesmo PT e seu braço sindical, a CUT, que nasceram propugnando o encorpamento da sociedade civil e sua contrapartida, a contração dos poderes estatais, quando governo fez o Estado avocar "a sociedade civil para si" (como mostrou L. W. Vianna), tal qual fizera Vargas no Estado Novo. As centrais sindicais, tornadas correias de transmissão do "Estado lulista" e indistintas entre si - doravante legitimadas pela CLT -, passaram a confraternizar no Ministério do Trabalho, repartindo poderes e verbas, abocanhando 10% do imposto sindical e gerindo recursos do FAT, do FGTS, de fundos de pensão, etc.
Se nossa compreensão é factível, esse congraçamento das centrais sindicais no âmago do poder, ao sujeitá-las ao oficialismo político-eleitoral e adequá-las à (re)estatização das organizações dos trabalhadores, tem implicações preocupantes.
Cria possibilidades reais de conduzir à obstrução dos movimentos de um setor primordial da sociedade civil e, mesmo, à sua inação. Com uma agravante: a subalternização de todos os que, para sobreviver, dependem da venda da força de trabalho. E pior: em detrimento dos valores, das instituições e da práxis democrática.
*José Antonio Segatto é professor titular de Sociologia da Unesp
Fonte: O Estado de S. Paulo (10/12/14)
O golpismo é uma marca registrada na política brasileira. Do ponto de vista institucional, significa uma ruptura constitucional estribada nas Forças Armadas. Nem sempre deu certo, apesar da frequência. Mas foi bem-sucedido em momentos cruciais da história brasileira, como na Proclamação da República, que “o povo assistiu bestificado”, na Revolução de 1930 e no golpe militar de 1964.
Engana-se, porém, quem imagina que o golpismo é uma característica apenas das forças políticas mais conservadoras. Ele está impregnado na esquerda brasileira, como foi demonstrado em 1935, com os levantes comunistas do Rio de Janeiro, Recife e Natal, e às vésperas do golpe de 1964, quando se tramava a reeleição de João Goulart e a “reforma agrária na lei ou na marra”.
Nesse último caso, ganhou quem deu o golpe primeiro. Isso não justifica os 20 anos de ditadura que o país atravessou, com sequestros, torturas e assassinatos. A luta armada contra o regime militar, porém, também foi uma manifestação de golpismo. Por quê? Era fruto de uma concepção militarista, que excluía o povo do processo decisório e pretendia implantar uma ditadura do proletariado.
Mesmo com apoio da população, o golpismo carece de legitimidade. Os processos democráticos pressupõem o respeito às regras do jogo e aos poderes constituídos. Quando a cúpula do PT fala em golpismo, deve ter seus motivos, mas não parece que o problema real seja a oposição derrotada nas urnas.
O que acontece é outra coisa. Cada dia que passa surgem novas evidências de violações às regras do jogo pelo PT e seus aliados. O segundo maior fornecedor da campanha de Dilma Rousseff foi uma empresa laranja que já havia sido citada no processo do mensalão; o governo gastou muito mais do que a Lei de Responsabilidade Fiscal permitia para ganhar as eleições e omitiu o fato mediante manobras contábeis; parte da propina do escândalo da Petrobras, flagrada pela Operação Lava-Jato virou doação eleitoral.
Quem denuncia
Houve um vale-tudo para ganhar a eleição. O PT argumenta que a oposição, especialmente o PSDB, utilizou os mesmos métodos e que o jogo é jogado. Cita o escândalo do metrô de São Paulo, que seria tão antigo ou mais do que o da Petrobras. A tese é quase uma espécie de nos locupletamos todos, já que não há moralidade.
A ameaça ao PT, porém, não vem da oposição, apesar dos discursos e dos protestos, alguns realmente golpistas, com objetivo de insuflar os quartéis. Na verdade, vem dos órgãos de controle que apuram os malfeitos na República: Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria-Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU) e, agora, a auditoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujos técnicos propuseram a rejeição das contas de campanha da presidente Dilma.
Mas voltemos à discussão sobre o golpismo. A ideia de que a eleição da presidente da República está acima das instituições republicanas é perigosa. Se fosse assim, nenhum prefeito ou governador poderia ser cassado. Impeachment não é golpe, cassação de mandado com base no devido processo legal também não. Fazem parte das regras do jogo e são instrumentos de autodefesa das instituições democráticas.
A presidência não está acima do bem e do mal. Esse é o recado que está sendo dado pela alta burocracia (delegados, procuradores, auditores, juízes) que zela pela legitimidade dos meios utilizados na política. Mas ninguém está propondo o afastamento da presidente Dilma Rousseff, recém reeleita pela maioria dos brasileiros.
Na verdade, o país está sobressaltado, principalmente, por causa da situação de descalabro na Petrobras. Como se sabe, a estatal carrega grande simbolismo, nasceu de uma vitoriosa campanha popular nacionalista. O próprio mundo político vive uma grande expectativa com relação aos desdobramentos do escândalo na estatal, devido ao suposto envolvimento de parlamentares, ministros e governadores no esquema.
O PT, porém, numa coisa tem razão: sempre houve corrupção na política. A diferença é que isso ocorria na base da Lei de Murici, a máxima do coronel Tamarindo, que morreu esquartejado pelos jagunços de Canudos: “Cada um cuida de si”. A Operação Lava-Jato, entretanto, desnudou um esquema sistêmico de envergadura, com um centro dirigente e muitas ramificações envolvendo grandes empresas e partidos.
Fonte: Correio Braziliense (10/12/14)
Labirintos são lugares perigosos e não se deve entrar neles sem o fio de Ariadne com que Teseu, depois de matar o Minotauro que afligia a cidade de Tebas, teve como encontrar o caminho de saída. Por motivos diversos dos que levaram Octávio Paz a descrever o México como o labirinto da solidão, título do ensaio clássico que dedicou à formação do seu país, também a metáfora do labirinto pode servir-nos para compreender algo do nosso. Sem fio que nos guie, desconfiados das linhas retas, pegamos gosto pelos zigue-zagues, em que sempre nos perdemos, retornando a passagens já percorridas.
Essa sina tem sua marca de origem na própria fundação do nosso Estado, quando um movimento nacional-libertador, que germinava na então colônia, foi atalhado pelo episódio da Independência, em que o filho do rei metropolitano foi consagrado como imperador. Teríamos, a partir desse desfecho singular, de procurar uma rota americana consultando velhos mapas ibéricos, o que fizemos, visto da perspectiva de hoje, tudo pesado, até que com relativo êxito, embora o labirinto ainda seja a nossa morada.
A conciliação entre contrários, fórmula descoberta nos primeiros anos do Segundo Reinado e que nos veio para ficar, mesmo quando invocamos princípios fortes em nome de revoluções, como nos anos 1930, em que Vargas, arguto intérprete da política do Império - não à toa, dois de seus principais colaboradores, Oliveira Vianna e Francisco Campos, se contavam entre os admiradores da política imperial -, foi capaz de governar com a Carta de 1934, composição bizarra da ordem liberal com a corporativa, e, mais tarde, em 1937, com uma Carta protofascista que jamais levou a sério, dela fazendo uso para fins de conservação do seu poder. Foi, aliás, sob a vigência formal dessa última Carta que Vargas declarou seu apoio aos Aliados na 2.ª Guerra Mundial, e enviou tropas para combater o fascismo na Itália.
Definitivamente, o Brasil é a terra da revolução passiva, em que a condição para que as coisas mudem é a de que, ao fim, elas fiquem como estão - movimento, pois, labiríntico -, lição que, bem antes de aprendermos nos livros, já tínhamos entranhado na nossa experiência política, como na frase famosa do estadista mineiro Antônio Carlos de Andrada, às vésperas da revolução de 1930; "Façamos a revolução antes que o povo a faça". E aí, nessa montagem, ainda em curso, do segundo governo de Dilma Rousseff, mais uma situação exemplar de como coexistimos com o Minotauro em seu labirinto. Nas histórias infantis de Monteiro Lobato, seus personagens aquietavam a fúria desse monstro da mitologia com os deliciosos bolinhos de Tia Anastácia, mas na cena aberta diante de nós a tarefa parece ser bem mais complexa.
Ao longo da campanha presidencial, o céu de brigadeiro com que se inicia a jornada da candidata à reeleição logo se vai turvar com a ameaça da candidatura Marina Silva, que, desconstruída com ferramentas sacadas do arsenal do diabo - como Dilma antes de aberta a sucessão prometera fazer, se fosse o caso -, pavimentou o caminho para o crescimento da candidatura de Aécio Neves. Ferramentas de segunda geração foram, então, mobilizadas: o nacional-desenvolvimentismo, antes evocado em surdina, torna-se um dos carros-chefes da campanha, jovens lideranças das redes sociais e das jornadas de junho de 2013 são incorporadas, nem a velha esquerda é esquecida. O nacional-popular, renegado nas origens do PT, teria encontrado um lugar no partido e eventuais energias utópicas poderiam sentir-se liberadas. Foi por um triz, mas foi o que bastou.
Embalada pela vitória eleitoral, a direção política do PT apresentou seu plano de ação, que parecia saído das páginas de A Razão Populista (Três Estrelas, São Paulo, 2013), de Ernesto Laclau - professor emérito de Essex, recentemente falecido -, sofisticado trabalho em que argumenta em favor do paradigma populista como um experimento capaz de combinar com êxito o institucionalismo com as demandas sociais originárias de uma mobilização espontânea do povo. Freud, Lacan, Wittgenstein, mais o Gramsci da teoria da hegemonia suportam sua difícil e tortuosa construção, exercício hermenêutico que conclui no sentido de negar a existência, na cena contemporânea, de ontologias privilegiadas. O mundo do trabalho e seus personagens teriam perdido centralidade em nome da emergência do povo.
Para sua sorte, Dilma conta com Lula. Esse mestre nas artes da revolução passiva não tardou a perceber a gravidade dos riscos de as veleidades populistas dominarem a agenda do novo governo. E barrou-lhes o caminho. Romper com sua política, bem-sucedida em dois mandatos, em meio a uma tempestade perfeita - alta da inflação, crescimento zero, perda de credibilidade interna e internacional -, qualificada pelos malfeitos da Petrobrás, apenas com o aríete de ruas desgostosas da política e do exército Brancaleone reunido às pressas no segundo turno da campanha eleitoral seria marcar um encontro com o desastre.
A intervenção ordenada por ele foi cirúrgica: cooptou-se o programa econômico da candidatura da oposição. Num passe de mágica, voltou-se, como soe acontecer nos labirintos, ao mesmo lugar de 2003, com as elites econômicas, demonizadas no discurso da campanha eleitoral, novamente reconhecidas como parceiras estratégicas do novo governo do PT. A fórmula cáustica "hegemonia às avessas" do sociólogo Francisco de Oliveira, cunhada em 2007, para designar a situação em que "os dominantes consentem em ser politicamente conduzidos pelos dominados" desde que não se questione a "forma da exploração capitalista", tem aí recuperado o seu sentido original, embora continue tão enigmática quanto ao tempo da sua formulação. Ela pode ser própria para quem deseja viver em labirinto, ou tentar sair dele por métodos confusos, quando se perde ainda mais.
Fonte: O Estado de S. Paulo (08/12/14).
“Não perdi a eleição para um partido político, mas para uma organização criminosa que se instalou no seio de algumas empresas brasileiras, patrocinada por esse grupo político que aí está.”
A declaração de Aécio Neves ao jornalista Roberto D’Ávila repercutiu amplamente, como seria de esperar, feita que foi para isso mesmo.
O senador pode ter tido motivos para dizer o que disse. Acha que se manifestou de acordo, ao lembrar que a expressão “organização criminosa” foi a mesma usada pela Polícia Federal para classificar a “quadrilha que atuou durante 12 anos na Petrobrás”. Mas a frase forte, solta no ar, jogou mais lenha numa fogueira que queima há tempo sem produzir efeito positivo. Lançou um factoide, num momento em que o País clama por gestos emblemáticos.
É verdade que o aparelhamento da Petrobrás atingiu, nos últimos anos, a dimensão de um verdadeiro assalto, combinado por partidos políticos e empreendedores vários. Mas também é verdade, como disse o delator premiado Paulo Roberto Costa, que operações desse tipo têm sido rotineiras no País, não se limitando nem à Petrobrás nem a um ou outro ciclo governamental. “Não se iludam. O que acontece na Petrobrás acontece no Brasil inteiro. Em ferrovias, portos, aeroportos. Tudo.” O apoio político a diretores encarregados de fazer as intermediações corruptoras não teria faltado ao longo das últimas décadas. Foi assim que se viabilizou a sistemática formação de cartéis especializados em tirar dinheiro extra de atividades econômicas que dependem de recursos estatais.
Haveria, pois, que se qualificar a acusação, pô-la além da criminalização localizada. Virar a página não seria “inocentar” o PT ou aliviá-lo de responsabilidade, mas abrir o leque, expor as raízes profundas da corrupção e educar a cidadania.
Do outro lado da cerca, o PT tem motivos para reagir com irritação à declaração de Aécio. Afinal, ela mantém o partido numa posição incômoda, estigmatizando-o como se fosse o único a ter as mãos sujas. Judicializar a questão, porém, mediante a interpelação de Aécio na Justiça, não é caminho virtuoso. Responde a um factoide com outro factoide. Não tira o partido da vitrine, nem dá ao fato inconteste da “corrupção” nenhum tratamento consistente. O partido continua enfeitiçado pelo espelho mágico, crente de que não há na Terra ninguém menos corrupto do que ele.
E faz questão de dizer que “não leva recado para casa”.
A frase de Aécio veio em má hora, mas não configura um “golpe” ou a manutenção em aberto de um interminável “terceiro turno”, como disseram próceres petistas. Foi inadequada porque deu combustível aos que desejam acirrar ânimos, propõem intervenções militares e pedem impeachments. Não extravasou um “sentimento de indignação” que possa impulsionar uma oposição democrática consciente de seu papel.
A reação petista manteve o tom e engrossou o caldo. Faz tempo que o PT chama de golpista toda crítica ou acusação que lhe é endereçada. Fala que é tudo coisa feita para prejudicá-lo. Não se dá conta de que, ao agir assim, passa recibo aos acusadores e insufla seus próprios defensores. Enforca-se com a própria corda.
O País permanece em clima eleitoral. Os protagonistas das urnas de 2014 não retocaram a maquiagem. Continuam lambendo as próprias crias e as próprias feridas, a mastigar a mesma ração insossa que ofereceram aos eleitores. Nenhuma manobra diferente, nenhuma análise prospectiva, nenhum realinhamento de forças, nenhuma atitude de grandeza. O diálogo anunciado pela presidente ficou no terreno protocolar, as oposições nem sequer estão pagando para influenciar o que virá pela frente. Todos parecem encantados, à espera dos frutos que virão do escândalo da Petrobrás.
A manutenção sem novidades da polarização PT x PSDB não traz ganhos ou vantagens para ninguém, nem para os próprios contendores, muito menos para a população, o Estado democrático ou a agenda pública. O parafuso espanou e quanto mais petistas e tucanos insistirem em forçar a chave de fenda maior será o estrago.
O melhor para todos seria que o novo governo começasse com o pé direito. Quem sabe assim a política aprumasse e as coisas ficassem mais claras. Não é esta oposição - verborrágica, exagerada, midiática - que se espera do PSDB. Não será desse modo que o PT crescerá como força política capacitada para disputar espaço em um governo que somente em parte pode ser apresentado como seu e viverá na turbulência.
O cenário lembra o abraço de dois afogados que, ao submergirem, levam consigo as energias e as expectativas de uma multidão de espectadores. No horizonte, não há boias nem salva-vidas.
Sem metáforas: faltam lideranças políticas, bons articuladores, estadistas, e na falta deles o País gira em círculos, cambaleante, aprisionado por suas limitações.
Estamos carecendo de “ideais morais” que fixem uma imagem de cidadania que possa servir de parâmetro para a sociedade. O nível da “moralidade pública”, entendida em sentido rigoroso, não moralista, está baixo demais e os desafios do País são enormes. O ceticismo social e as paixões reprimidas que nascem dessa discrepância não ajudam ninguém.
Fonte: O Estado de S. Paulo / Caderno Aliás